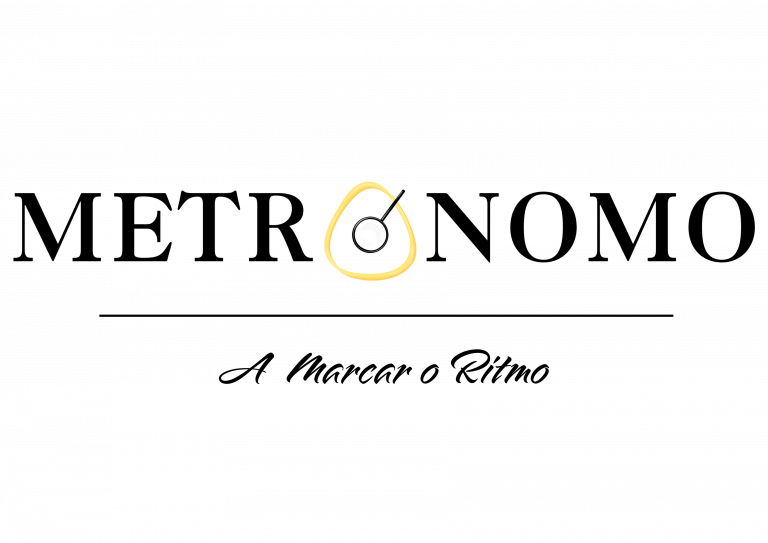Prisioneiros das Nossas Narrativas: o Afeganistão e o Paradoxo da Política Externa Norte-Americana - Parte 2
Biden caracteriza a decisão de retirada do Afeganistão como uma escolha binária: ficar ou sair; estar ou não estar. Diz que se recusa a “enviar gerações” de norte-americanos para em nome da estabilidade de um país longínquo. Na realidade, desde pelo menos 2014, quando cessam as operações de combate e diminui o número de tropas destacadas, que não se pode dizer que os EUA tenham “enviado” qualquer “geração” para o Afeganistão. Apesar de serem cenários mais pacíficos, as forças que os EUA mantinham no Afeganistão até ao mês passado eram uma fracção das que mantêm, desde 1957, na Coreia do Sul (hoje, são ainda mais de 20.000).
A justificação para a decisão de retirada assenta assim num falso dilema, no sentido em que reduz a dois extremos, sim ou não, dentro ou fora, uma escolha que na verdade se faz mediante um espectro de cinzentos que vai desde uma presença militar enorme robusta (mais de 100.000 tropas em 2010 e 2011) a uma presença ligeira e cirúrgica (rondando a marca das 5.000 tropas nos últimos anos).
Estas distinções são demolidas e todo o período é aplanado para caber no termo forever war, ou “guerra eterna”, que Biden repete frequentemente. Este termo pressupõe só por si a impossibilidade de uma resolução bem-sucedida para a intervenção no Afeganistão. Mas também recupera narrativas antigas sobre o intervencionismo norte-americano após o 11 de Setembro, invocando a Guerra do Iraque (2003-2011), que hoje é unanimemente vista como falhada desde o seu início. O termo prejudica assim a avaliação do que se conseguiu e não conseguiu no Afeganistão.
Momentos traumáticos como o 11 de Setembro e a Guerra do Iraque têm um grande poder no desenvolvimento de narrativas. Se o 11 de Setembro motivou uma retórica de retribuição que foi fundamental na narrativa que levou os EUA a entrar no Afeganistão, é também impossível explicar a decisão de retirada sem ter em conta a aproximação do 20.º desse evento traumático aniversário.
A força do símbolo “11 de Setembro” é tal que Biden sacrificou importantes factores tácticos para conseguir ter a retirada pronta a tempo do 20.º aniversário do 11 de Setembro. Só isso pode explicar que Biden tenha decidido realizar a retirada em pleno Verão, num país onde as estações ainda comandam o ritmo da guerra. O rápido avanço dos Talibã não seria possível durante o Inverno, quando as montanhas se tornam intransponíveis. Retirar no inverno teria permitido adiar o avanço Talibã e assim gerir melhor a evacuação, negando aos rebeldes o prémio psicológico que vem com a rapidez da conquista.
Biden aponta como razão de fundo para a retirada a ideia de que a falta de apetite pela intervenção externa que se sente nos EUA.
O decisor político podia, em teoria, tentar convencer o seu público a empreender um compromisso de política externa através de uma análise dos riscos e das oportunidades estratégicas. Mas terá receio de que essa explicação seja demasiado complexa. É provável que tenha razão. É por isso necessário simplificar a história e apelar a valores com os quais a população se identifica. Os valores são essencialmente ideias, mas ideias a que temos afecto e em nome das quais estamos dispostos a agir e a fazer sacrifícios. Assim, acaba a contar uma história diferente. Apela antes a uma narrativa que mobiliza os valores mais queridos à população, neste caso norte-americana: democracia, liberdade, direitos humanos.
Consegue assim o assentimento da população, mas à custa de um novo problema (que preferencialmente ficará para um sucessor): é agora prisioneiro da história que contou. O tempo passa, e os objectivos irrealistas baseados em valores vagos vão chocando com a realidade, e o decisor vê-se obrigado a adoptar soluções de compromisso, a preferir o bom ao óptimo. Mas se o fosso entre nas narrativas e símbolos iniciais e a realidade no terreno é demasiado grande, vai ganhando força tentação de simplesmente desligar toda a operação tirando a ficha da tomada. Foi o que aconteceu com o Afeganistão.
Os valores em nome dos quais se simplifica a justificação uma acção tão grave como a da intervenção militar variam de sociedade para sociedade. Numa democracia, é natural que esses valores incluam noções democráticas, o que só aprofunda o paradoxo. Se um dos pressupostos da democracia é a crença de que o povo pode e deve decidir como quer que o seu país seja governado, então apenas podemos justificar a intervenção noutro país por motivos que incluam a sua emancipação. A história conta-se assim: povo X é oprimido e não pode manifestar a sua verdadeira vontade. Com a nossa ajuda, a opressão terminará e poderá exprimir-se livremente. A noção de “verdadeira vontade” remonta pelo menos à volonté général de Jean-Jacques Rousseau. O poder desta ideia é atestado pela história da Revolução francesa e das Guerras Napoleónicas.
Esta ideia provou ser eficaz junto do público norte-americano. O problema é que não nos podemos servir impunemente de uma ideia simples e poderosa em prol de objectivos limitados. Ela encerra em si a capacidade de se sobrepôr a esses objectivos, resultando naquilo a que se chama de mission creep, o fenómeno pelo qual a nossa missão transborda e se transforma num compromisso com objectivos bem mais latos que os originais. Este mission creep é bem visível no caso da guerra no Afeganistão. A ideia de nation-building, ou construção de nação, foi entrando no vocabulário da elite política norte-americana. É +pr considerar este um projecto megalómano que Biden defende a retirada.
A racionalidade do decisor é assim constrangida pelas exigências da aprovação de uma determinada estratégia. Diminuindo o papel da racionalidade, diminuí também a possibilidade de orientar estrategicamente a acção. Esta é uma forma arriscada de conduzir a política externa de um país, uma vez que assume que o escrutínio público do envolvimento externo do país é um risco demasiado grande para ser suportado pelos decisores. Condena assim a comunidade política a tomar decisões absolutistas, ora intervindo com expectativas demasiado elevadas, ora recusando toda e qualquer intervenção.
Entre “o oito e o oitenta”, torna-se difícil para a população ter um debate estratégico. A estratégia será sempre produzida por grupos restritos na cúpula decisória do país. Mas essa estratégia deve ser traduzida para termos que possam ser debatidos por largos segmentos da população, que desejavelmente irá aderir às suas ideias-chave. Só assim é possível haver uma apreciação crítica da estratégia quando se der o inevitável choque com a realidade.
No caso da presença no Afeganistão, um debate mais complexo daquele que existiu teria revelado que diferentes abordagens resultaram em diferentes níveis de sucesso. O excessivo uso de força pelos norte-americanos poderia ter sido identificado como um dos elementos mais contraproducentes da intervenção. Como mostra Anand Gopal numa reportagem para o The New Yorker feita a partir do terreno no Afeganistão, as populações rurais que perderam familiares para ataques de drones e bombardeamentos aéreos norte-americanos desenvolveram uma natural aversão em relação ao “invasor estrangeiro” que os dispôs a dar uma nova oportunidade aos Talibã. A injustiça destes danos colaterais furou irremediavelmente a narrativa que os EUA ofereceram para justificar a intervenção.
A ideia com que se fica é assim a de que os EUA saíram do Afeganistão devido a uma conjugação entre a incapacidade de debater estratégia e a um sentimento de cansaço que se generalizou entre o público norte-americano, e não devido ao maior ou menor sucesso da sua presença nesse país. Como escreve Ryan C. Crocker num ensaio no New York Times, o problema não é a falta de poder, mas sim a “falta de paciência estratégica”.
Pode ser que os norte-americanos tenham simplesmente decidido que não vale a pena o esforço de estabilizar o Médio Oriente. Ou então a repugnância pelo activismo internacional é mais profunda que isso, e estamos a assistir a um regresso dos EUA ao seu tradicional isolacionismo. A tolerância da Administração e da opinião pública norte-americanas ao sofrimento e aos danos reputacionais que a retirada apressada causou sugere que as ideias a que Biden apela quando defende a sua decisão são hoje bem mais fortes que as ideias que justificaram a ocupação em 2001 e a permanência desde então. Sugere mesmo, talvez, que os norte-americanos perderam a vontade de sustentar a ordem internacional que vigora desde o fim da Guerra Fria.
O espanto da comunidade internacional pode explicar-se pelo choque entre as narrativas que os EUA apresentaram aos outros países, como o internacionalismo liberal e a promoção da democracia e dos Direitos Humanos, e as narrativas que circulavam dentro do próprio país. Aí, o cansaço com os encargos internacionais tem-se feito sentir cada vez mais. Quando olhamos para os dois séculos e meio de história dos EUA, o padrão é tendência isolacionista. Nem a Primeira Guerra Mundial convenceu o país a tomar como interesse vital a estabilidade da Eurásia: para isso foi preciso a Segunda Guerra Mundial. A vontade de participar activamente na construção e manutenção de uma ordem mundial que daí resultou parece estar a esgotar-se. A Guerra no Iraque poderá ter-lhe dado a machadada final.
Os estados que beneficiam da ordem internacional mantida pelos EUA têm agora a confirmação de que não poderão contar com os norte-americanos para continuar a assumir as mesmas responsabilidades. A mensagem-chave do Presidente Biden para o mundo, “America is back”, prometia reconstruir a credibilidade dos EUA após a turbulenta Administração Trump. A comunidade internacional já aceitara que Biden seguiria a doutrina de Trump quanto às relações EUA-China, mas a displicência do novo presidente quanto aos compromissos dos EUA no Médio Oriente despejou um balde de água fria sobre as cabeças dos mais optimistas.

Quando Trump abandonou os curdos no norte da Síria, os aliados dos EUA noutras partes do mundo tomaram nota. No entanto, a persona errática de Trump deixou muitos com a esperança de que a decisão fosse uma aberração política. Agora que Biden tirou o tapete ao Afeganistão, ninguém pode ter essa ilusão. Dada a continuação desta postura de um Presidente Republicano para um Democrata, parece que as narrativas em circulação nos EUA apontam firmemente na direcção da saída de cena do palco global.
As responsabilidades dos europeus sobre a postura do Ocidente no mundo não começam aqui. Longe disso. Portugal em particular foi um aliado constante aliados dos EUA nas intervenções no Médio Oriente. Portugal não pode por isso assobiar para o lado — e pelas declarações do Ministro da Defesa Nacional, não parece que o vá fazer. O acolhimento de refugiados é um imperativo moral e um sinal forte de empenhamento nos destinos das populações de um país que nós também ocupámos, inseridos na missão da NATO. A partir de agora, porém, a U.E. terá maiores responsabilidades internacionais. A forma como o poder norte-americano é exercido e percepcionado por aliados e adversários não poderá continuar a ser a mesma. A evidência de que existe uma nova equação de poder internacional colocará novos dilemas às sociedades europeias.
Nas últimas décadas, a garantia de segurança norte-americana tirou-nos autonomia, mas também nos poupou a fazer as escolhas mais difíceis de política externa. As sociedades europeias tiveram o luxo de pensar mais na economia e noutras questões domésticas e menos em problemas de segurança internacionais. Viver sem o guarda-chuva de segurança dos EUA poderá exigir alguma aprendizagem. Num mundo multipolar, a U.E. terá mais decisões a tomar, e as consequências dessas decisões serão maiores. Enquanto sociedades, é importante que comecemos a debater estas questões com frequência e com algum grau de complexidade. Só assim podemos construir a base de decisões que, pelo seu simplismo, nos levem a nós ou a outros a cenários catastróficos como o que o Afeganistão está a viver hoje.
Talvez este momento traumático nos traga uma maior consciência do facto mais importante da política internacional dos nossos dias: já não estamos num mundo unipolar, mas sim num mundo multipolar. A hegemonia norte-americana que resultou do fim da Guerra Fria e da União Soviética deu lugar a um sistema de múltiplos centros de poder. Estará a União Europeia preparada para enfrentar esta realidade? A abdicação de poder dos EUA devolve autonomia à política externa europeia, e com ela traz maiores responsabilidades. Convém por isso que comecemos a pensar nas dificuldades inerentes ao processo de decisão política no xadrez tridimensional que se joga no tabuleiro externo.


Tomé Ribeiro Gomes
Natural da Ilha da Terceira, é doutorando em "História, Estudos de Segurança e Defesa", com um gosto especial por Antiguidade Clássica. Nos tempos livres aprecia bons livros, passeios longos pela natureza e filmes do Tom Cruise.
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link