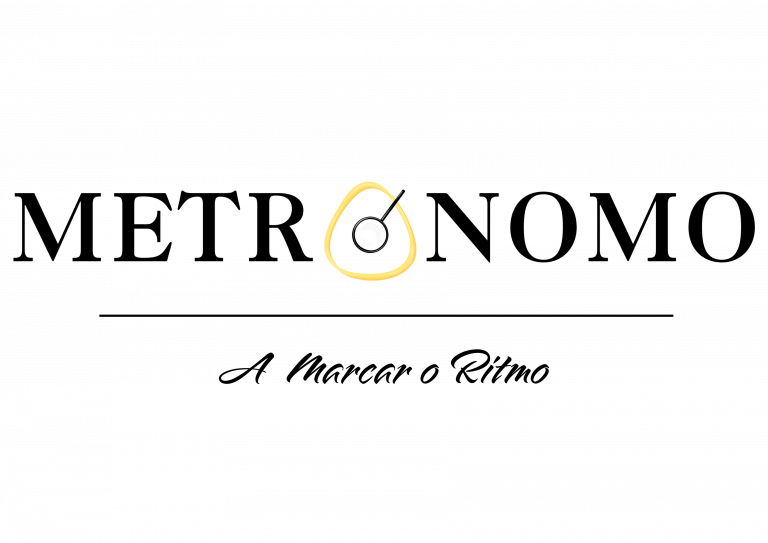Prisioneiros das Nossas Narrativas: o Afeganistão e o Paradoxo da Política Externa Norte-Americana - Parte 1
Não é a primeira vez que o Vale de Panjshir resiste aos Talibã. Este grupo de extremistas islâmicos maioritariamente pashtun governava grande parte do Afeganistão há cerca de quatro anos quando resolveu assassinar Ahmad Shah Massoud. O líder tadjique da Aliança do Norte, conhecido como “Leão do Panjshir”, frustrava-lhes as tentativas de tomar o vale no nordeste do país. Dois dias depois do seu assassinato, a 11 de Setembro de 2001, a al-Qaeda levava a cabo o ataque terrorista mais ousado de sempre. Bin Laden terá encomendado o assassinato de forma a garantir o apoio dos Talibã para enfrentar a inevitável fúria dos EUA.
O Leão do Panjshir seria celebrado como herói nacional no Afeganistão pós-Talibã. Mas no 20.º aniversário da sua morte, 9 de Setembro, os Talibã publicaram vídeos de soldados a vandalizar o seu mausoléu no vale que ele defendeu e a partir do qual o seu filho continua a resistir ao controlo dos Talibã. Os norte-americanos vieram, na sua fúria punitiva, e expulsaram os Talibã em pouco tempo. A vingança sobre bin Laden demorou mais tempo: só em 2011 encontraram o líder terrorista, escondido no vizinho Paquistão. Foi também aí que os Talibã se reagruparam, regressando lentamente ao Afeganistão a partir de 2003. No 20.º aniversário do 11 de Setembro, os norte-americanos e as forças da NATO abandonariam os descendentes de Massoud e os restantes afegãos, deixando-os de novo à mercê dos Talibã.
A tomada do Afeganistão pelos Talibã terá consequências profundas. As mais imediatas serão sofridas pela população afegã, especialmente os que ajudaram as tropas ocidentais e os que beneficiaram de novas oportunidades nas últimas décadas, como mulheres que tiveram acesso a uma educação formal. Mas as ondas de choque causadas pelo fim da presença militar ocidental no país ao fim de 20 anos prometem alterar a distribuição de poder não só a nível regional como a nível global.
Dada a magnitude destas consequências, a forma repentina como os acontecimentos se desenrolaram deixou-nos a todos perplexos. Ao procurar resolver esta perplexidade encontraremos, no coração do drama afegão, um problema fundamental da tomada de decisão em política externa.

A decisão de saída do Afeganistão foi anunciada pelo Presidente dos EUA sem antes consultar os aliados da NATO e apresentando uma justificação questionável. Seguiu-se uma retirada atabalhoada, com as tropas norte-americanas a abandonarem a Base Aérea de Bagram durante a noite e sem avisar ou passar a autoridade ao comandante afegão. Semanas depois, o Presidente Biden enviava tropas para uma missão de resgate do aeroporto de Cabul que deixou muitos para trás e sofreu um mortífero atentado terrorista.
O que explica este comportamento errático? Numa palavra: as narrativas. O que melhor explica o caos das últimas semanas é a facilidade com que uma dada narrativa, criada e propagada no passado, prevalece sobre a análise racional das circunstâncias presentes, condicionando fatalmente o processo decisório no âmbito da política externa.
No dia 8 de Julho, Biden anunciou o prazo de 31 de Agosto para a retirada. Biden reajustava o calendário da saída, confirmando assim o legado de Trump em relação ao Afeganistão. O anterior presidente celebrara em Fevereiro de 2020 o acordo de Doha com os Talibã. O acordo foi visto como uma capitulação norte-americana — um “surrender agreement”, nas palavras H. R. McMaster, que chegou a ser Conselheiro de Segurança Nacional de Trump — já que foi alcançado através de conversações que excluíram o governo afegão apoiado pelos EUA. As concessões feitas, como o compromisso de saída das tropas norte-americanas até Maio de 2021 e a libertação de 5.000 prisioneiros Talibã, não foram igualadas por garantias do outro lado. As poucas que os Talibã deram foram vagas — nem se comprometem a parar a ofensiva militar então em curso — e dependentes de uma confiança que o seu historial não inspira.
A peculiaridade do acordo é evidente logo no seu desajeitado título: “Acordo para Trazer Paz ao Afeganistão entre o Emirado Islâmico do Afeganistão, que não é reconhecido pelos Estados Unidos como estado e que é conhecido como os Talibã, e os Estados Unidos da America”. Mas Biden aceitou a relação de forças que este criou. Já em Julho, defendia a retirada dizendo que os objectivos que levaram à invasão em 2001, no rescaldo do 11 de Setembro, estavam cumpridos: eliminar Osama bin Laden e estabilizar o país para que não continuasse a servir de base a grupos terroristas como Al-Qaeda. Garantia ainda que a retirada seria ordeira, e que o país não cairia nas mãos dos Talibã devido à eficácia do Exército Nacional Afegão, treinado e equipado pelos EUA.
Os acontecimentos das semanas seguintes mostraram que vários dos pressupostos de Biden estavam errados. Passado um mês do anúncio, os Talibã tomavam a primeira capital de província. Ao longo das semanas seguintes, à medida que as capitais de província capitulavam, tornou-se evidente que as forças armadas afegãs não tinham capacidade de resistir ao avanço talibã. A retirada do apoio aéreo norte-americano, função que o exército afegão não tinha capacidade técnica de assumir, e o impacto psicológico do abandono das forças ocidentais tornaram o avanço talibã imparável.
O sucesso dos Talibã também se ficou a dever a factores anteriores à retirada iniciada por Trump e concluída com Biden. O governo norte-americano tinha a obrigação de os conhecer e de os tomar em conta. Mas a necessidade de empolar os ganhos para o Afeganistão durante a presença dos EUA, os mais significativos dos quais se deram na área dos Direitos Humanos, e principalmente nas grandes cidades, tornava incómodo um olhar sério para os factos no terreno. Um desses factos é o sucesso da comunicação talibã.
Se já beneficiavam da ideia de que iriam pôr fim à pequena criminalidade com os castigos severos que prevê a xaria, os Talibã ganharam ainda uma reputação como administradores fiáveis. Segundo o Financial Times, enquanto as autoridades do governo exigiam aos condutores que faziam a estrada entre Cabul e uma das fronteiras o pagamento da mesma portagem várias vezes, os Talibã que patrulham essa estrada passam recibo ao condutor, que este pode mostrar quando ao voltar a ser parado pelos Talibã, evitando pagar duas vezes.
Em Agosto, à medida que o mundo assistia à queda do Afeganistão, província a província, Biden defendia a sua decisão dizendo que não iria lutar pelo Afeganistão quando “numa guerra que as forças Afegãs não estão dispostas a travar por elas próprias”. Culpava assim o Exército e as elites políticas afegãs por deserção e por entregarem o país aos Talibã. No entanto, é difícil culpar quem quer que seja do lado afegão quando a realidade no terreno não corresponde ao cenário traçado por Biden. Nessa mesma intervenção, relembra o “incrivelmente bem preparado” exército de 300.000 soldados que os EUA deixaram no país. Dada a falta de fiabilidade da burocracia afegã, ninguém acredita que os nomes que estão no mapa de pessoal corresponda mesmo a soldados no terreno. Na verdade, segundo a BBC, o Exército Nacional Afegão teria cerca de 50.000 efectivos.
Apesar disso, esse exército mantinha o controlo do país, salvo algumas áreas rurais, limitando a campanha talibã através do apoio aéreo que os EUA continuavam a prestar. Era de esperar que persistissem ainda a corrupção e a falta de capacidade administrativa e técnica quer no Exército como no governo afegão, tendo em conta que ambos são criações recentes num país que nunca foi um Estado-nação. Numa população de quase 40 milhões, mais de 70% vive em meio rural, num rendilhado de grupos étnicos e de aldeias onde o poder reside frequentemente nos anciãos locais. A noção de legitimidade política no Afeganistão não tem os mesmos contornos que tem no Ocidente. Apesar disso, houve momentos em que a estratégia norte-americana para o Afeganistão assumiu que era possível criar um estado centralizado e democrático neste território.
Gráfico: BBC, “Afghanistan: What has the conflict cost the US and its allies?”.
De 2001 a 2006, a presença de tropas dos EUA e dos seus aliados era muito reduzida, ficando abaixo dos 10.000 soldados. O ressurgimento dos Talibã com as suas tácticas de guerrilha levou a Administração de George W. Bush a rever os seus objectivos e a destacar cada vez mais tropas para o Afeganistão. Em 2008, o número de tropas norte-americanas chegava aos 30.000.
A nova doutrina para o Afeganistão era a de counterinsurgency (contra-insurreição), que via na conquista dos “corações e das mentes” dos locais a forma de combater a influência dos guerrilheiros junto da população. No entanto, a presença de mais tropas e o aumento das operações de combate, com inevitáveis danos colaterais, facilitava o discurso anti-intervenção estrangeira da propaganda dos rebeldes talibã.
Barack Obama bem tentou resistir à pressão do Pentágono, mas acabou por determinar, em 2009, o grande aumento de tropas que ficou conhecido como a surge. A ideia era estabilizar o país e capacitar as forças armadas nacionais de modo a poder depois retirar gradualmente as tropas. No ano seguinte, 2010, o número de tropas no Afeganistão ultrapassava os 100.000. Já o investimento dos EUA atingiria o seu pico em 2011, mais de 100 mil milhões de dólares anuais. Biden sempre foi contra esse aumento de tropas.
Mas Obama regressaria a uma postura de forças mais leve, a chamada light footprint. A partir de 2014, uma presença reduzida de soldados — entre os 25.000 e os 2.500, em 2021 — foca-se no objectivo inicial de counterterrorism (contraterrorismo). Embora as baixas civis e militares afegãs permaneçam levadas, as baixas entre as tropas norte-americanas e da NATO passam a ser residuais.
Biden argumenta que os ataques dos Talibã só diminuíram devido ao acordo de Doha negociado por Trump. Antes pelo contrário. A “postura de força” norte-americana no Afeganistão era mínima desde 2014 e desde 2016 que os EUA não levam a cabo operações de combate no Afeganistão. Não é apenas uma questão de grau, de menos ou mais dinheiro e menos ou mais tropas. Estas funções são qualitativamente diferentes das que se verificavam sob a doutrina de counterinsurgency. Independentemente de se concordar com elas ou não, de um ponto de vista de racionalização de meios militares dos EUA e da NATO, estas funções são sustentáveis.
Biden esconde a distinção entre estas estratégias, ignorando que a abordagem maximalista já havia sido descartada há anos e falando da presença no Afeganistão como se todo o período de duas décadas fosse um bloco homogéneo. Enumera apenas dos custos cumulativos, quer financeiros quer em vidas humanas, eliminando assim a nuance essencial sobre diferentes posturas de força dos EUA e NATO no país.
Continua na Parte 2.


Tomé Ribeiro Gomes
Natural da Ilha da Terceira, é doutorando em "História, Estudos de Segurança e Defesa", com um gosto especial por Antiguidade Clássica. Nos tempos livres aprecia bons livros, passeios longos pela natureza e filmes do Tom Cruise.
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link
-
Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link